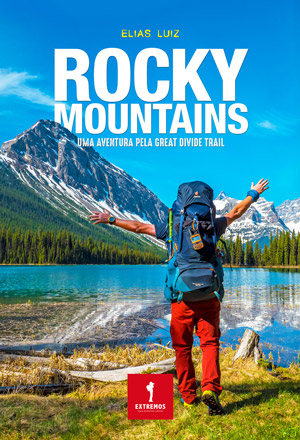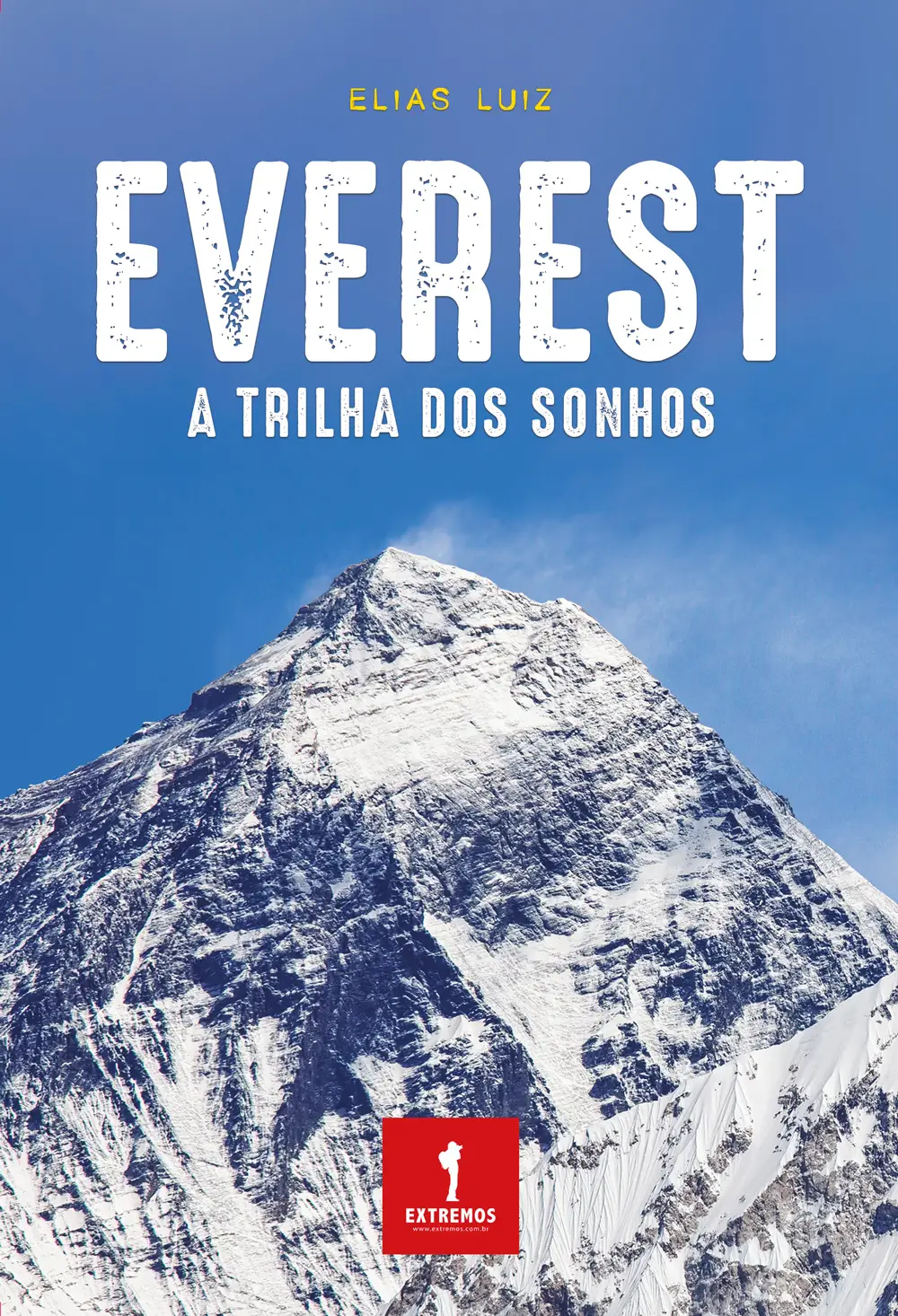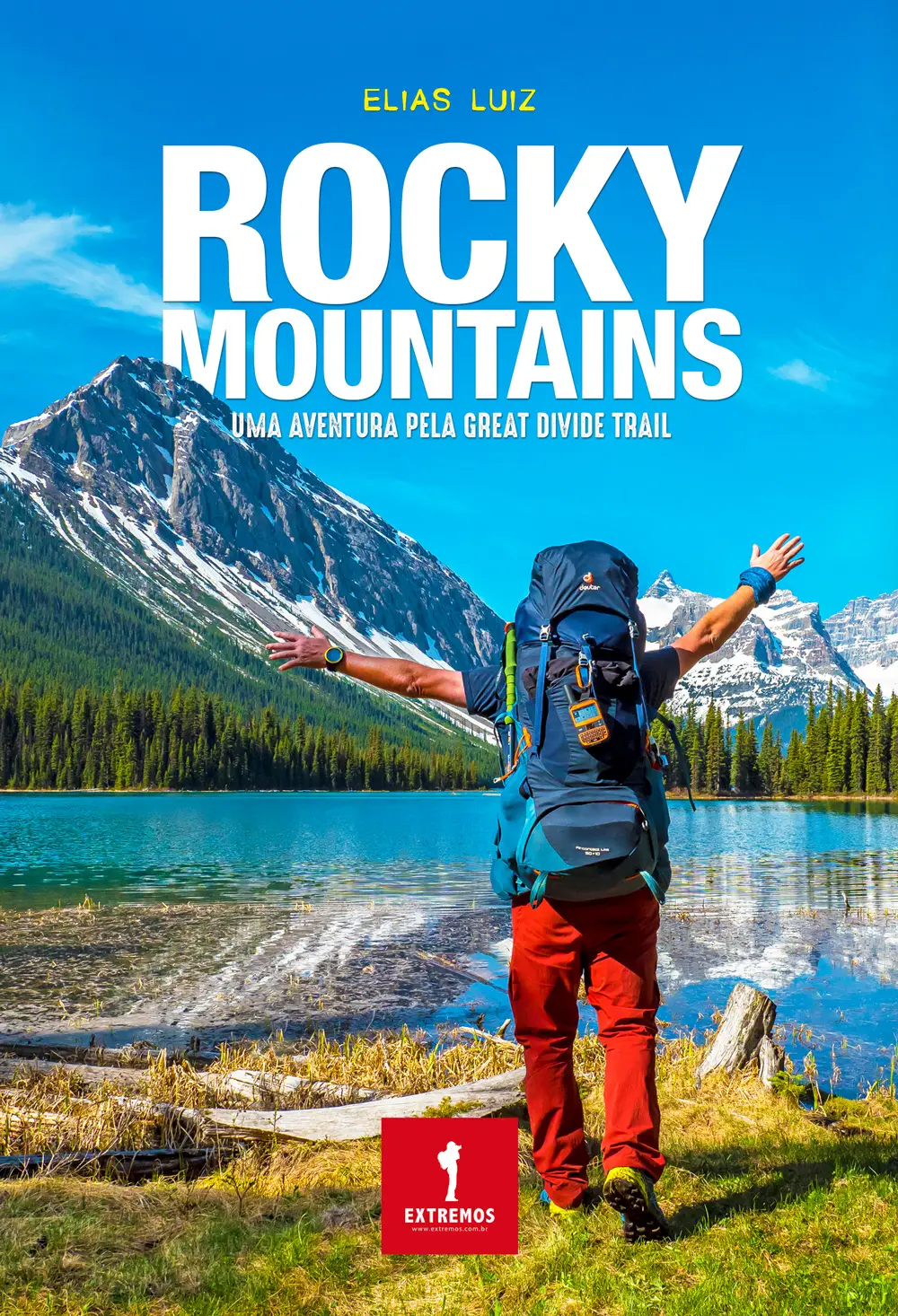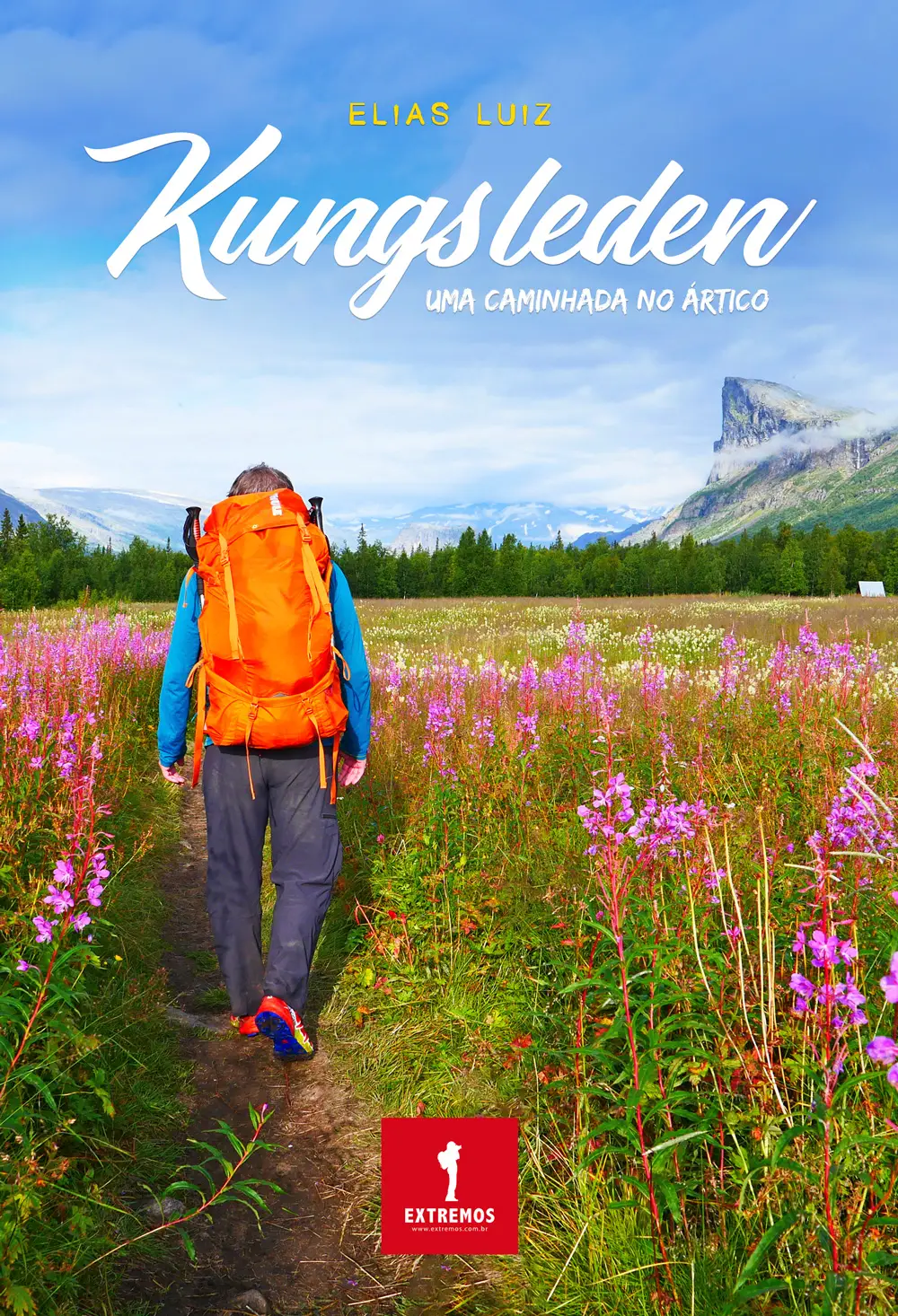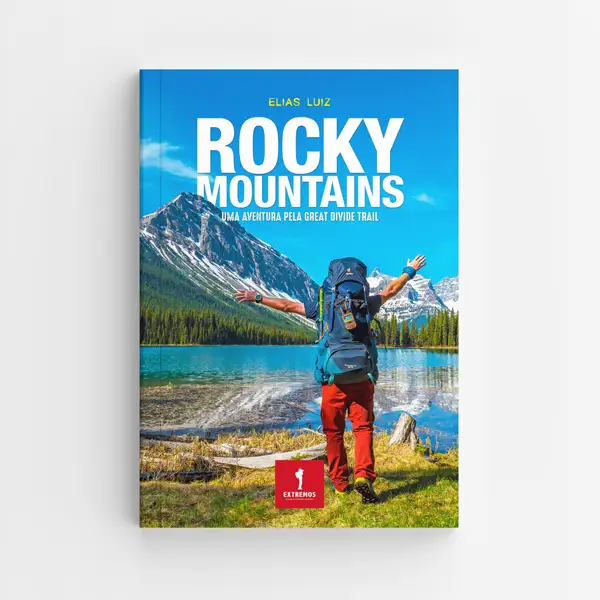Havia um tempo em que escalar era apenas subir. Não existiam catálogos com cem tipos de equipamentos, nem manuais de técnicas importadas. Os poucos que se aventuravam nas paredes do Vale buscavam algo mais simples: um confronto direto com o vazio, com o vento, com a própria consciência.
Yvon Chouinard era um desses.
Enquanto outros começavam a transformar a escalada em demonstração pública, ele seguia na direção contrária: menos material, menos barulho, menos ego. Seu objetivo não era conquistar a montanha, mas purificar-se nela.
Para Chouinard, o estilo era mais importante que o cume.
Uma ascensão só tinha valor se deixasse a montanha intacta, se fosse feita com leveza, e se o escalador saísse dela mais honesto consigo mesmo. “O mundo moderno nos sufoca com excessos”, escrevia. “A parede nos devolve a sobriedade.”
Ele rejeitava a escalada como espetáculo. Criticava o colecionismo de montanhas. Denunciava a transformação dos grandes paredões em arenas de vaidade. E alertava que o equipamento, quando se torna muleta, rouba a essência da experiência.
Para ele, o alpinismo era, sobretudo, uma maneira de habitar o limite — onde as escolhas importam, onde nada é supérfluo, onde o ser humano descobre quem é quando tudo o que não precisa cai pelo caminho.
Essa visão moldaria não só uma geração de montanhistas, mas também uma marca, um movimento e uma ética. O minimalismo funcional da Patagonia, a ênfase na responsabilidade ambiental, o apelo a uma vida mais simples — tudo nasce daquele manifesto inicial à beira do mundo.
Chouinard defendia que, para encontrar sentido nas montanhas, é preciso chegar a elas com humildade. “A montanha não se impressiona com reputações”, dizia. “Ela apenas devolve aquilo que somos.”